Lorenzo Mammi
Enquanto escrevo, os três urubus que compunham a obra “Bandeira Branca” de Nuno Ramos já foram retirados da 29ª Bienal de São Paulo.Toda Bienal traz alguma polêmica que não é propriamente estética, e que acaba ocupando nos jornais um espaço equivalente ou maior do que aquele das resenhas críticas. É normal, por se tratar de um evento de massa baseados em obras que não falam uma linguagem de massa. Em geral, são discussões que acabam tendo certa relevância, porque ajudam a avaliar o grau de aceitação que a arte contemporânea tem junto à opinião pública. Esse caso, no entanto, me parece mais grave.
Na realidade, não é apenas de urubus que se trata. Já antes da Bienal, o autor da pichação, Djan Ivson, declarava que Nuno Ramos não teria direito de falar do “lado sombrio do Brasil”, porque é um “burguês formado em faculdade” (Folha.com, Ilustríssima, 17/09). Em 1 de outubro, a colunista Barbara Gancia sugeriu colocar o artista contra uma parede, e lavá-lo com uma mangueira. E Ingrid Newkirk, presidente da organização do tratamento ético dos animais (Peta) -- a única, me parece, a ter uma motivação séria – falou na Folha (8 de outubro) em obras criadas “unicamente com o intuito barato de chocar”, esquecendo que quem criou o escândalo não foi o artista.
É óbvio que o mote “Liberte os urubus” não corresponde a nada de real: esses urubus nasceram em cativeiro, no Parque dos Falcões em Sergipe, e para lá voltaram, para um espaço bem menor do que lhe era destinado na Bienal. É igualmente óbvio que nem eu, nem a maioria dos envolvidos temos a menor idéia do que pode estressar um urubu. O laudo do Departamento de Parques e Áreas Verdes não detectou nenhum sinal de estresse, o veterinário que acompanhava os bichos se manifestou no mesmo sentido. O juiz que chancelou definitivamente a remoção, o fez na base do princípio de que se pode revogar uma licença já concedida, quando foram detectadas novas irregularidades. Não foi divulgado, que eu saiba, quais seriam essas novas irregularidades, nem se a direção da Bienal ou o artista se recusaram a corrigi-las. Aliás, a obra não é nova: já tinha sido exposta em Brasília, no Centro Cultural Banco do Brasil, sem nenhum questionamento por parte dos órgãos responsáveis.
Se os espaços públicos brasileiros adotassem as regras propostas pela presidente do Peta, não poderiam ser expostas obras de arte que envolvam o uso de animais vivos. Ficariam fora muitos trabalhos importantes de Joseph Beuys, Iannis Kounellis e outros. Mas os filmes de John Ford, por exemplo, envolvem uso de cavalos vivos, e ninguém se sonharia de proibir sua exibição. A presença de animais num filme ou numa publicidade parece normal, é porque ali o bicho está “atuando”, representando algo. Numa obra de arte, ao contrário, o animal é apenas ele mesmo. Para nós, que estamos acostumados a freqüentá-lo apenas sob forma de hamburger ou sendo penteado na vitrine de um pet-shop, uma presença tão nua é vagamente inquietante. Somos levados a transferir para ele um desconforto que provavelmente é apenas nosso. Mas se a destruição ou mutilação de uma obra de arte é determinada por motivações tão confusas e erráticas, é porque a obra é considerada irrelevante e arbitrária. Não se reconhece a ela o direito de nos incomodar.
Coco Chanel definiu assim a diferença entre arte e moda: a moda é o belo que se torna feio, a arte é o feio que se torna belo. Com isso queria dizer, acredito eu, que a moda parte de um consenso que se pretende natural, mesmo sendo construído artificialmente (este ano a moda é...); mas esse consenso deve ser rapidamente substituído (a moda do ano passado está fora da moda, deixou de ter valor). A arte, ao contrário, especialmente a partir do modernismo, é a construção de um consenso sobre algo que não é óbvio de antemão. Para que uma obra de arte se torne relevante, é preciso que um grupo consistente de pessoas a insira num sistema de valores em que, à primeira vista, ela não deveria estar. Cada inclusão comporta a modificação do sistema inteiro. Quando os quadros impressionistas passaram do estatuto de borrões ao de obras-primas, mudou o perfil das molduras, o mercado da arte, o colecionismo, mas também a maneira de olhar para as periferias urbanas, os café-chantants, os circos, os bêbados e as putas. A arte exerce constantemente o papel de apontar para valores futuros, transgredindo os vigentes. É uma das formas que nossa civilização encontrou para se renovar.
Nuno Ramos é artista do caminho mais difícil, o que escolhe a solução menos esperada, a mais arriscada comercial e tecnicamente. Isso tornou sua carreira mais lenta, pelos parâmetros do mercado da arte, mas acabou tornando-o referência. Olha-se para a obra do Nuno, não para saber o que se deve, mas o que é possível fazer. É por isso, acredito, que a curadoria da Bienal lhe destinou o vão central da Bienal. Mas é também por isso, por ser um artista atípico e imprevisível, que nele se concentraram os ataques.
Na medida em que a sociedade perde a capacidade de transgredir a si mesma, de criticar seus procedimentos e valores, obras de arte que não caibam em categorias claras ou princípios já estabelecidos passam a ser vistas como provocações vazias. Em compensação, criam-se nichos de transgressão estandardizada, que não chegam a questionar valores universalmente compartilhados, mas apenas se instalam dentro deles, num lugar previamente destinado à rebeldia. Há quase trinta anos, o rap surgiu como manifestação promissora de novos sujeitos sociais. De lá para cá, se tornou o setor mais lucrativo da indústria discográfica, mas parece incapaz de se renovar. Sua linguagem é do slogan, do “nós contra eles”. Na música popular tradicional, o cantor era alguém fora do comum não apenas em relação à cultura oficial, mas também ao seu próprio grupo. O rap não evolui porque não permite esse tipo de distanciamento: não deixa espaço à autocrítica, à ironia ou ao desespero. Não seria capaz de produzir um Noel Rosa, ou um Nelson Cavaquinho. Vale para ele o que o protagonista do filme Uma mente brilhante diz da menina que lhe aparece em suas alucinações: não pode ser real, porque tem sempre a mesma idade.
O caso da pichação me parece semelhante. Os rabiscos que se vêem nos muros da cidade são interessantes, embora alguns deles – como a suástica inserida numa estrela de Davi, que recorre como vinheta no vídeo exposto na Bienal – proporcionem um calafrio na espinha. Chama-me a atenção, no entanto, os espaços escolhidos para as pichações. Mesmo antes da lei da cidade limpa, raramente atacavam mensagens publicitárias: preferem as paredes brancas, ou então a obra de grafiteiros, que são seus concorrentes imediatos. Numa sociedade de comunicação de massa, que tende a anular o silêncio, a pichação preenche, no fundo muito docilmente, os vazios. O inimigo não é o sistema, mas o vizinho, cujo espaço pode ser ocupado. E se antes o concorrente, nessa ocupação, era o grafiteiro, agora, com ambição maior, passa a ser o artista.
Quando uma obra de arte original é inserida num sistema de valores, é preciso repensar o sistema inteiro. Para a pichação, como antes para o grafite, isso não é necessário. É suficiente acrescentar mais um setor, sem interferir com os demais. Logo os pichadores terão suas associações, editais, e linhas de financiamento do governo. Elegerão vereadores. Quando sua linguagem se tornar muito gasta, outra cumprirá o mesmo papel.
No pequeno vídeo que está entre as melhores dádivas dessa boa Bienal, diz Jean-Luc Godard, nosso eterno mestre em transgressão: “A cultura é a regra, a arte é a exceção. Faz parte da regra querer eliminar a exceção”. Vivemos numa época da regra, a sociedade está se enrijecendo em oposições simplórias. A arte incomoda mais, quando for boa, porque não há regra onde caiba. É provável que perca essa guerra. Que os urubus fiquem sossegados.
esta pagina contem anexos do site: mundo à revelia (mundoarevelia.blogspot.com)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
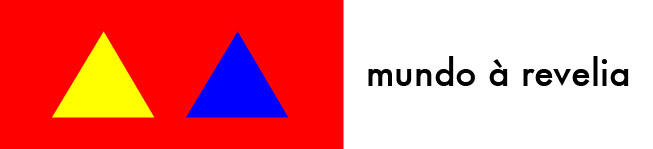
Nenhum comentário:
Postar um comentário